

|
|
Maria Estela Guedes
Foto de Aline Daka |
|
|
O Deus escondido de Frei José Augusto |
|
|
José Augusto Mourão acaba de publicar
um volume de 320 páginas em que reuniu os seus poemas inéditos e
publicados, «O Nome e a Forma», prefaciado por José Tolentino de
Mendonça (Lisboa, Assírio e Alvim, 2009). O título, de tão descarnado, é
mais consentâneo com a sua especialização em semiótica do que com a
poesia. Contraste entre formas de expressão, dele sairá vencedora, no
entanto, a voz do afecto. Nestes pontos de tensão verificam-se
rupturas, o que traz como resultado um tom novo para a poesia religiosa.
Aliás, esta poesia, por ser assumidamente católica, aparece como algo de
novo na nossa literatura mais recente, em que o fenómeno religioso, ou
não se identifica com o catolicismo, ou, a identificar-se, confere à
poesia a pátina do anacronismo e do estereótipo.
São-me por vários modos familiares os
poemas, alguns porque ditos por mim em ofícios religiosos ministrados
pelo autor. Experiência que alia a estranheza da situação a uma
camaradagem com o poeta já entrada em anos e por isso consolidada em
amizade. São vários assim os caminhos da interacção entre escrita e
leitura, e esse, o da comunhão da poesia no espaço sagrado, devido a
alimento mais divino, não deixa de causar perplexidade, sobretudo no
drama das mais íngremes contradições. Adianto que não tem sido só a
poesia de Frei José Augusto a eleita para as suas liturgias, outros
poetas nesse «quando» entregam versos à oração.
É pois de poemas católicos que o livro
se constitui, e não são poucos os problemas que levantam, pelo menos a
mim, que sou pessoa de poucas crenças e de menos fé ainda, e por isso
mesmo, e não pelas razões contrárias, pratico, e concordo com algum
pensamento contemporâneo, segundo o qual a crença deixou de ter
significado, mais pertinente do que ela é a necessidade; e pensamento
que fala de uma «presença real» na arte, o partir de um real em demanda
de outro real. A esse real dá George Steiner o nome de Deus, num livro
cujo título já se embebeda em realismo: «Presenças Reais». Eis a
decifração da primeira parte do título de José Augusto Mourão – o Nome
dele é mais do que provavelmente o de Deus. Para o segundo, a Forma, não
disponho de chave num quadro de desambiguação. Mas precisamente: há
muitas formas de perseguir Deus, ou de invocar o seu nome. A mais óbvia
é a oração, quer dizer, o esforço de estabelecer contacto com Deus
através de palavras não estereotipadas que, no caso, são os poemas de «O
Nome e a Forma».
Será inoportuno contar uma história
pessoal? Arrisquemos um lance biográfico. O nosso povo ensopa-se em
missas, já não é a primeira vez que oiço padres recomendarem do altar
que as almas não precisam assim de tanta encomenda. Não precisam, acho
que os vivos precisam mais delas do que os mortos, mas adiante, vamos ao
relato pícaro. Certa vez trouxe um terço de presente a Frei José
Augusto, de regresso de viagem a algum lugar mais santo. Ele ficou a
olhar para mim, sem saber se havia de me pregar ou não na cruz de alguma
homilia. Posto um silêncio escrutinador, ficou-se pelo declarar que não
usava terço. Não reza o terço?! Que não rezava. Para que precisaria Deus
das suas orações?
Pois é evidente, Deus, na sua
omnipotente envergadura, não precisa de nada, quem precisa somos nós, e
rezar é uma boa ocupação para a mente, especialmente quando as orações
são boa literatura. Aliás, a poesia é boa prece, como Frei José Augusto
demonstra. Insuportável é a repetição do que se torna realejo de baixa
cultura. |
|
Isto para dizer que não rompemos
os joelhos em adros de devoção comum, o autor é pessoa dada a
reflexões de ordem mais elevada, o que não resolve nenhum dos
problemas que a sua obra levanta, e o maior deles, na minha
perspectiva, é o de ser ministro de uma Igreja que põe como
dogma a omnipresença de Deus (Deus está em nós, Deus está em
todo o lado, e por isso, por mais forte razão ainda, Deus está
no templo, a sua casa) e contra o dogma se erguer com as
palavras de «Deus absconditus»:
onde estás, Deus
libertador,
que nos perguntam por ti e
não te vemos?
Deus escondido, onde estás? |
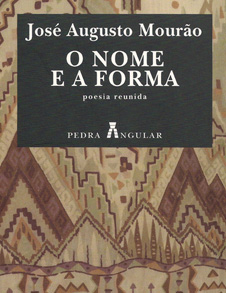 |
|
|
Problema exposto, sangrando na cruz,
talvez não para este emissor que às vezes se vela por detrás do frígido
manto da Semiótica, sim para nós, que nos fixamos nos nomes e nas formas
de que o afecto se reveste, é este de nos confrontarmos com um homem da
Igreja, apaixonado por Deus, que nos garante que Deus não está entre
nós. Existe mas não está. É Ser, mas não ocupa lugar, portanto o seu
reino não é matéria neste mundo. Diferentemente de George Steiner, para
quem Deus é uma presença real na arte, Frei José Augusto estende o braço
para mostrar aos crentes o templo vazio: «Deus não está aqui». É a maior
de todas as feridas, esta de reconhecer para si mesmo que o sentido de
Deus é o esforço do Homem para se encontrar. Visto o choque de um lado
científico, o meu, v.g., essa é a grande necessidade do divino, ele
provoca a impulsão do Homem para o alto, com a evolução e
aperfeiçoamento daí decorrentes.
Deus não está entre nós mas vive
algures, fora de nós e fora dos templos, escondido, como garante logo na
portada do livro o enigma da Esfinge, sob o título de «Deus
absconditus». Mistério a revelar, o do Deus abscôndito, eis o sentido da
religiosidade, segundo a minha leitura.
Deus criou o Homem e depois retirou-se,
abandonando-nos ao nosso destino. E o nosso destino, agora, é viajar em
sua demanda. Toda a tragédia de Frei José Augusto se desenvolve então
numa busca intérmina, na dor da falta que impulsiona à peregrinação para
testemunho da manifestação divina, noutro mundo e noutro tempo. O Homem
identifica-se com o Cristo que se lamenta, na agonia: «Pai, porque me
abandonaste?»
É uma poesia de pathos,
dificilmente acessível às ideias vulgares, mas muito facilmente
acessível no que nela é partilhável: o sofrimento das inteligências
contemporâneas demasiado próximas da ciência para aceitarem sem provas,
inquietas, carentes de fé e de crença, mas cientes de que Deus é uma
necessidade humana, e por isso repletas do que tende a substituir o
dogma da fé: desejo, vontade e esperança.
Frei José Augusto, dominicano, expõe-se
neste livro muito mais do que no ensaio ou na homilia, ele abre as
feridas, pois todos as temos, à avaliação e exegese do olhar estranho,
de acordo aliás com o que teoriza em texto próprio de abertura, «Luz
desarmada», por exemplo no ponto 6:
«Expor-se à luz pública é mais do que
um acto de comunicação entre um emissor e um receptor: ‘Não te fixes em
mim e eu tão-pouco me fixarei em ti» - é este o sentido do a priori
da comunidade de comunicação. Expor-se é testemunhar do Sopro’».
Mais do que comunicar, a exposição
implica o estabelecimento de relações – Deus é a máxima fixação:
suporte, segurança, salvador e amado. Nada porém garante que o amor seja
retribuído, mas o amor tende a ser gratuito, ou vale tanto mais quanto
mais gratuito é, como de resto é próprio da condição de Deus - «Deus é
gratuito», escreve-se em um dos poemas deste livro.
Como se nota, o catolicismo de Frei
José Augusto está muito longe das sacristias. Ao dar Deus como Ser de
questa e Ser gratuito, ele desafia o nosso mundo a ver o resultado da
substituição que fizemos dos valores espirituais pelos materiais, em
que, no mais alto pedestal, reluz o bezerro de oiro. O que resta é um
abismo. |
|
 |
| DOIS
POEMAS DE «O NOME E A FORMA» |
|
Deus
absconditus |
|
onde estás, Deus libertador,
que nos perguntam por ti e não te
vemos?
Deus escondido, onde estás?
devemos procurar-te entre os destroços,
a cinza e as mãos cortadas como canas
verdes,
ou à frente das batalhas,
entre os que caminham como o vento
e as folhas das plantas, sensíveis à
luz,
entre os que vão de cabeça alta e
regressam
da servidão do saco e do tijolo
os que acordados vêm,
os pés recentemente desatados,
a língua solta?
Deus escondido, onde moras?
devemos procurar-te entre os que
fizeram o êxodo
e começaram a amar,
os que morrendo a si já ressuscitam
os que rompem as muralhas da pele e
pedem água?
devemos procurar-te naqueles que sobem
à montanha
para molhar as mãos de luz e
transfigurar-se?
(na solidão dos montes apalparei a tua
face?
na limpidez dos rios e nas palavras
com que que fizeste o mundo verei a tua
mão correndo?)
onde devemos esperar-te, Deus da
surpresa
e como nós trânsfuga?
Deus dos que não têm voz nem barcos
para na albufeira olhar a alma
a crescer como a sombra dos pinheiros
anoitece a alma e o rio,
Deus gratuito, onde estás?
devemos procurar-te na poesia e no
canto,
no amor e na beleza,
na barraca e no lixo?
onde apareces, Deus amigo dos pobres,
onde te acharemos, Deus libertador? |
|
 |
|
Ateísmo |
|
o mundo actual vive sem deuses
é ateu
o seu sonho é divino
mas não é com um deus que sonha
os deuses retiraram-se como as aves
por causa do ruído
que avassala o mundo
é no mistério que o respeito se funda
e o sagrado dispõe para o tempo a vir
só um deus nos pode salvar
no período decisivo e indeciso
do interregno da vociferação
o sagrado é fidelidade à origem
a memória é fidelidade ao sítio da
alegria
que palavra fará surgir
o invisível à manifestação? |
|
|
Maria Estela Guedes. Membro da Associação Portuguesa de Escritores, da secção portuguesa da Associação Internacional de Críticos Literários, do Centro Interdisciplinar da Universidade de Lisboa e do Instituto São Tomás de Aquino. Directora do TriploV. Alguns livros publicados: Herberto Helder, Poeta Obscuro; Eco/Pedras Rolantes; Crime no Museu de Philosophia Natural; Mário de Sá-Carneiro; A_maar_gato; Ofício das Trevas; À la Carbonara; Tríptico a solo; A Poesia na óptica da Óptica; Chão de Papel; Geisers. Espectáculos levados à cena: O Lagarto do Âmbar (Fundação Calouste Gulbenkian, 1987); A Boba (Teatro Experimental de Cascais, 2008).
|
|
|