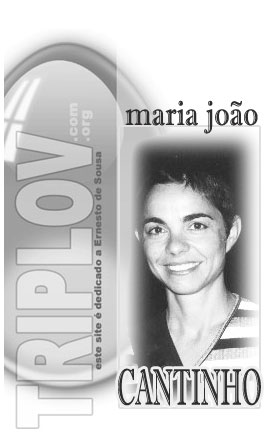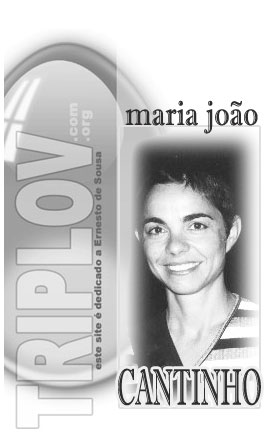A obra de Mário Botas aparece no panorama da pintura portuguesa como uma pintura avessa a classificações, resistindo em toda a sua singularidade face ao aparecimento das correntes pós-modernas que ocorreram na sua geração. Nascido em 1953 e precocemente desaparecido em 1983, o pintor iniciou o seu trabalho em 1971, mas foi a partir do ano de 1977 que ele conheceu o grande “choque” que a impulsionou. Nesse ano, com vinte e quatro anos de idade, ele soube que a sua vida urgia, ao tomar conhecimento de que sofria de leucemia. A partir daí, ele descobre na obra a única razão da sua existência e o modo de perdurar no tempo. Um olhar de extrema inquietação e curiosidade sobre o mundo, a par da leitura assídua de poesia e literatura, transformaram-lhe a pintura num universo essencialmente literário, que atinge a sua máxima expressão em Le Spleen de moi-même, onde o autor assina, no desenho da capa, o seu nome, acrescentando-o ao de Baudelaire. Ao longo do percurso pictórico, o contacto fecundo com a poesia e a literatura conjugam-se com o convívio estreito com muitos poetas (António Osório, Herberto Helder, Eugénio de Andrade, Raul de Carvalho, Cesariny, entre outros). Grande parte da pintura consiste em “ilustração” de livros de Gunter Künert, Raul Brandão, Almeida Faria, António Osório, bem como uma série de desenhos sobre temas do Antigo Testamento, outros comentando poemas de Mário de Sá-Carneiro e de Rimbaud, referências a Fausto, Le Horla, revisitações de vários temas mitológicos, como Réa, Ixion, Hécate. Um tema recorrente e ironicamente tratado é a história de Portugal: Leonor Teles, Fernandus Rex Portucalensis, O Enigma de Alcácer Quibir, A História Secreta de Portugal, A morte de Inês de Castro, os D.Sebastião, O Milagre das Rosas. O gosto pelo retrato de escritores que o fascinaram é igualmente uma tónica dominante, tal como o retrato de Kafka, Pessoa, Camões, Mário de Sá-Carneiro, Tristan Corbière, Rilke, etc. Face ao panorama da pintura portuguesa dessa década, a obra de Mário Botas, assume um estatuto muito peculiar, articulando o poético e o fantástico, integrando a herança surrealista da pintura e transformando o seu universo pictórico numa atmosfera onírica, de um simbolismo inquietante e opressivo, reforçado pelo cruzamento com as referências literárias e pela revisitação do classicismo e da mitologia. Como ele próprio afirmava: “O que pinto gosta de se encontrar com as palavras, sobretudo com as palavras dos outros. Raramente parto do texto para a imagem, mas quase sempre esta precede aquele”. E a necessidade de fazer coincidir ou encontrar o plano da imagem com o texto é expressamente revelada: “Raramente procuro ilustrar, mas antes realizar uma obra paralela que só se esclareça inteiramente pelo relacionamento feito entre ambas.” Dessa indissociação nasce também a singularidade da sua pintura, um percurso simultaneamente original e marginal, em que a morte e o carácter visionário da obra o transformam num artista de culto. É interessante acompanhar o seu percurso, tentando compreender o alcance e a profundidade do génio e a sua originalidade. Mário Botas nasceu na Nazaré, oriundo de família simples, tímido jovem de olhar melancólico e profundo - reconhecemos esse olhar nos auto-retratos que pintou. Foi estudar para Lisboa, onde terminou o curso de Medicina em 1975. No início, aprendeu os rudimentos da pintura e da arte com Cruzeiro Seixas e Mário Cesariny, tendo realizado com eles colagens e cadavres exquis. Trabalhou igualmente com Paula Rego, Manuel Casimiro e Raul Perez. O surrealismo interessou-o nessa primeira fase como ponto de partida, confessando posteriormente a sua desilusão. Ele interpretará o Maio de 68 como o “elogio fúnebre do surrealismo”, defendendo a ideia de que se torna necessário repensar um “novo dadaísmo” que conduza, não ao dogma surrealista, mas que se dirija antes para a mais extrema consciência da liberdade individual. O afastamento do “dogma surrealista” deveu-se em grande parte aos contactos cosmopolitas que procurava manter, em especial com o editor holandês Laurens vans Krevelen, com quem manteve correspondência até ao ano de 1977. É nesse ano do diagnóstico que o pintor-poeta rompe finalmente com o “dogma surrealista”, originando-se, a partir daí, a revelação de uma obra com cariz próprio. Apesar de ter sido a grande fonte do seu universo pictórico e poético, durante sete anos, essa cesura revela-se no álbum Confessionário (1976), fundindo um estado de espírito iconoclasta com uma ironia mordaz incidente nos recentes acontecimentos políticos (a revolução dos cravos e as suas consequências e excessos). A cisão com o surrealismo confirmar-se-á no álbum seguinte, Afrodisíacos (1976-1980), onde o papa do surrealismo é representado num desenho a tinta da china intitulado Cesariny, the waiter... É também nesse ano de 1977, entre 18 e 19 de Dezembro, a alguns dias do seu vigésimo quinto aniversário, que o jovem pintor inicia essa “litania dos adeuses” de que nos fala Almeida Faria, desenhando dez ciprestes alinhados como um cortejo fúnebre. Nesse desenho, no texto que nele se integra, o jovem despede-se das manhãs e das madrugadas, das “queridas nuvens” que aguarelou, das “águas correntes de regatos imensos, que não estão no corpo mas na alma e desaguam sempre noutro rio até chegarem àquele a quem os antigos chamavam Letes...”. Esta obsessão de desenhar e encenar mapas mentais, de estranhas rotas e cartografias inquietantes, marca o início de uma nova etapa da sua obra, interiorizada e obscura, mas em que descortinamos, ainda, um desejo de adiar o inevitável. Em Fevereiro de 1978, parte em busca de tratamento em Nova Iorque. Expõe nesse ano, individualmente, na Galeria Martin Summers e, colectivamente, em The Drawing Center. Aí encontra John Cage, o músico que lhe inspira A Dip in the Lake, aguarela de uma planta da cidade que pode ser Lisboa. Desses meses vividos nos Estados Unidos guardará referências que se lhe entranharão na obra. A vivência na megalópole transfigurar-se-á enquanto matéria mítica, magma fantástico ou poético que lhe ocupa a obra, tal como a leitura recorrente de mitos. A preferência pela literatura fantástica de autores como Borges, Blake, Swift e outros, paralelamente à de autores como Pessoa, Cervantes, Rousseau (que o marcará com a ideia do “bom selvagem”), Rimbaud, Lautréamont, Lewis Carroll, etc., inscrevem-lhe na obra a contaminação entre o mítico e o histórico. Data desse mesmo ano de 1978 o contacto com a obra de Egon Schiele na galeria Serge Sabarsky, em Nova Iorque, que se revela fulminante, reconhecendo-o como um dos seus mestres. Nos cinco anos seguintes, a influência da representação agressiva e insistente dos retratos de Schiele marcá-lo-á de tal forma que António Osório o apelidará de “arqueólogo de seu rosto”. Essas figurações são formas de expiar e apresentar a ruinosa catástrofe, servindo-lhe o retrato como a imagem arquetípica, que reveste as múltiplas formas de se despedir de si próprio (assina assim um gesto flagrante de heteronímia), deixando na obra esse vestígio pungente. Curioso é o modo como o seu rosto assoma e reveste tantas figurações, permanecendo nesses retratos uma indecibilidade fundamental dos rostos diversos que apresentam o mesmo: o seu. Seguindo o preceito de Schiele que Mário Botas entendia como “Centrado no seu ser único, Schiele não avançou apenas em termos de vanguarda artística; encaminhou-se para o que parece ser a posição essencial do artista. Não um produtor mais ou menos sofisticado de obras de arte, antes alguém que apaixonada e simultaneamente se desvenda e se oculta perante si próprio, guardando nos olhos a sua Imagem única e perturbadora.” A fronteira entre retrato e auto-retrato é ténue - tal como em Egon Schiele, a osmose entre ambas é uma constante, visível sobretudo nos desenhos de Camões e Pessoa - e percorre um registo diversificado na mimese. Em alguns desses desenhos identificamos de imediato o pintor, ainda que os modelos dos restantes retratos nem sempre sejam claramente reconhecíveis. O que lhes confere esse tom onírico, entre o que se oculta e o que se desvenda, como se ele não se preocupasse com as similitudes do rosto, mas antes com a representação de uma imagem-matriz, inquietante e interior. Alguns dos retratos, em especial o de Tristan Corbière, possuem esse lado arrepiante e assustador que parece provir do pesadelo. Uma contaminação do horror que se sobrepõe à representação do rosto parece ser, muitas vezes, a tónica dominante, condensando o visionarismo que se associa à antecipação da própria morte. É como se, ao olharmos essas figuras, pudéssemos ver neles, à maneira barroca, o dente da morte que se ferra no vivo e no orgânico, destruindo-o. Toda essa perturbadora galeria de retratos remete-nos para uma ideia de catástrofe anunciada, um combate contra a aniquilação antecipada, um exorcismo dos demónios interiores, num pedido de apaziguamento constante. Aliada às referências literárias, com particular incidência nos mitos trágicos de D. Juan - tema sobre qual elaborou diversas variações - e do Fausto, entre outros, surgem também as influências musicais, que se sobrepõem: Wagner, Alban Berg, Mozart, Richard Strauss e Weber. A intensidade e a espectacularidade da ópera encontram-se entre essas referências. Como se estabelece o modelo subversivo que atravessa toda a sua obra? E que a transforma nesse universo de uma irredutível singularidade? Se a presença de um erotismo hermafrodita a perpassa, no entanto, esse erotismo conduz-nos mais longe, arrasta-nos na vertigem que se encontra no limiar entre a vida e a morte, entre o orgânico e o petrificado. Conviva próximo de Botas, a morte emerge como pano de fundo em toda a sua extensão, contrastando essa violência com a delicadeza das suas aguarelas, o que torna a atmosfera ainda mais estranha. O corpo, seja o do próprio ou de outras figuras (com particular relevo na fase final da obra), aparece sempre representado com a marca da ruína, trespassado ou meio corroído, num território de transgressão que vai desde a travessia das fronteiras (homem/mulher, inteiro/fragmentado, vivo/morto), recuando mesmo aos dogmas de religiões judaico-cristãs, tocando e subvertendo os dispositivos sacrificiais, anulando a distinção entre sagrado e profano, puro/impuro. Todavia, é a partir dos laços entretecidos entre morte e feminilidade, que atravessam toda a simbologia judaico-cristã, que retira o maior dos efeitos estéticos e pictóricos. A Morte como Mulher, no seu olhar envolvente e húmido, a Mater Dolorosa, percorre violentamente a última fase da sua obra, conferindo-lhe o tom de uma misoginia ácida. Outras travessias paralelas ocorrem, no plano material, sobretudo na íntima ligação que ocorre entre desenho, caligrafia e manuscrito. A inquietação (e extrema riqueza do universo simbólico) na obra de Mário Botas advém-lhe da recusa de uma mimese da natureza, em que as representações são apresentações, num sentido próximo ao que Paul Klee defendia, de que a obra radicava numa crença no poder mágico do homem em criar novas realidades que conferem à vida esse excesso que não é da ordem do visível, mas sim metafísica. Por toda a parte, a alegoria revela o seu rosto melancólico, numa apresentação da ruína, dos monstros interiores, do corpo mutilado e da doença invasora, da morte que se anuncia, como no auto-retrato em que a ampulheta surge sobre o coração, anunciando o escoar do tempo de um modo obsceno, como nos quadros em que se auto-retrata como criança e o rosto se encontra dividido, uma parte ainda intacto, a outra imersa em escuridão. Ao longe, minúscula, espreita a figura expectante da morte. De um lado a infância, a nostalgia de um tempo perdido, a criança segura uma rosa na mão, a frágil flor da sua vida, do outro, a figura anunciada da catástrofe. Esse jogo dialéctico e de feroz violência repete-se amiúde em toda a sua obra, revelando cada rosto, cada corpo, cada figura, esse excesso do inominável, sob a forma de monstros, animais, figuras diabólicas e arrepiantes. A atmosfera dos seus quadros também evoca a pintura de Bosch e, em especial, o tríptico “O Jardim das Delícias”, com toda a sua galeria de imagens sinistras de híbridos monstros, situada entre o onirismo e o erotismo. Contra a delicadeza da representação surge o absurdo da apresentação, numa imagem surreal, próxima do pesadelo. Por outro lado, há uma encenação teatral, em que o tempo se encontra espacializado sob a forma de casas, no quadro as “Quatro Estações”, essa dialéctica entre a nostalgia e a ruína apresenta-se frequentemente, nos quadros em que as árvores se ligam simbolicamente às diversas fases do tempo/casas. Entre a palmeira, árvore que se encontra ligada à esperança e ao passado, e o cipreste, hirto símbolo da morte. Toda a sua pintura oscila entre esta dialéctica alegórica, tão cara ao espírito de Baudelaire e ao sentimento do spleen. Se, por um lado, é antecipada a ruína e a destruição do orgânico (sempre na figura da morte, do monstruoso e da doença), por outro, também se mantém a ténue réstea de esperança, pelo apontar de retorno nostálgico à origem (a palmeira, evocando um tempo puro, a rosa na mão da criança, o Verão). Sobre este choque que nos provoca a sua obra, da experiência de fragmentação e de cisão do sujeito, quer como autor, quer enquanto espectador da obra, é que nos parece importante reflectir, pensando-o como modo estético operatório muito peculiar, uma apresentação do irrepresentável, que nos toma e engole por inteiro, que nos arrasta ao abismo e que nos coloca diante da fragilidade da vida como um espelho côncavo e distorcido, hiperbólico. No outro pólo da contraposição encontra-se como temática fundamental, o sujeito narcísico de Egon Schiele, cuja obra reveste a densidade repulsiva de um erotismo que, em tudo, se afasta do organicismo de Paul Klee. Em Schiele, identificava Botas o “primeiro pintor moderno”, com a sua autoconsciência crítica e também pelo diagnóstico do mal de vivre, tão ínsito à poética de Baudelaire. O corpo subversivo, como apresentação confessional e subjectiva, tomado como objecto da obra de Schiele, transgredindo os cânones e referências ideológicas e religiosas, converte-se no veículo privilegiado da modernidade. Um “Eu” reflexivo e, por isso mesmo, alienado nessa reflexividade, tomado enquanto “Outro” e desapropriado de si mesmo, que encontrará em Artaud, Bataille e Pasolini um equivalente, como fonte do poético e da consciência ocidental moderna. Todavia, esse narcisismo que no início da obra apresenta contornos de ironia sarcástica (uma das tantas formas que assume o cinismo alegórico), vai-se obscurecendo e fechando no final da vida. A morte assume a forma de um escândalo, remetendo para um descrédito relativamente à religião e a Deus, acentuando-se o pessimismo e a fragilidade, definindo os contornos do mais desesperado nilismo. Em Botas, a beleza procurada a cada instante revela-se um ardil, mostrando o horrível, tal como a bela mulher, em Baudelaire, revela a caveira, a morte: esconde-se na luxúria da beleza (daí que a figura da morte seja feminina, na sua pintura), assalta o que por ela se deixa cativar e deslumbrar. Tal como o rosto de Narciso, o paradigma desse escandaloso paradoxo, reflectindo-se no espelho das águas, o que não é senão a visão última e derradeira, reveladora, a verdade a que Narciso sucumbe. Mas esse espelho é ainda e sempre a alma humana. |