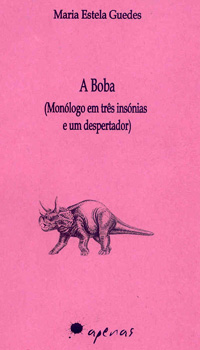|
||||||
REVISTA TRIPLOV
|
||||||
|
É
preciso mais e mais desenterrar os mortos, Heiner Müller
O contexto teatral português – indistinto, em termos gerais, do brasileiro e também do europeu – é marcado pela “continuada subalternização do papel das mulheres, sobretudo no que diz respeito a questões de autoria e cargos de direção com visibilidade”, como assinala Eugénia Vasques (2001; negrito no original) e, de outro lado, por uma expressiva atuação no feminino, já desde os primeiros anos do século XX – não desconsiderando o período formativo desta atuação, no século anterior, momento em que, aliás, registra-se certo fluxo da produção autoral de mulheres para o Brasil.[1] |
||||||
|
||||||
| DIREÇÃO | ||||||
| Maria Estela Guedes | ||||||
| Índice de Autores | ||||||
| Série Anterior | ||||||
| Nova Série | Página Principal | ||||||
| SÍTIOS ALIADOS | ||||||
| TriploII - Blog do TriploV | ||||||
| TriploV | ||||||
| Agulha Hispânica | ||||||
| Bule, O | ||||||
| Contrário do Tempo, O | ||||||
| Domador de Sonhos | ||||||
| Filo-Cafés | ||||||
| Jornal de Poesia | ||||||
|
||||||
|
Nas palavras de Eugénia Vasques (2001), “o lugar da dramaturgia portuguesa no feminino” se afirma entre as décadas de 1930 e 1960, extenso período, ao final do qual, entre os anos de 1952 e 1957-58, tem-se a irrupção de uma nova geração de autoras, a marcar, sobretudo pela singularidade de sua escrita, o território da dramaturgia portuguesa àquela altura e deixando entrever parte das trilhas por onde seguiria o teatro a partir da década de 1960. Neste contexto, ao lado de uma produção corajosa e provocadora assinada por Natália Correia e por Agustina Bessa-Luís, destaca-se a de Fiama Hasse Pais Brandão, que viria a ser, ainda segundo Eugénia Vasques, a promotora, desde a sua estreia, em 1957 (Em Cada Pedra um Vôo Imóvel: Recitações Dramáticas), de uma escrita poética, contaminada pelos modelos do absurdo e da tragédia coral (então ainda em voga), e mais do que as outras, mesmo que Natália Correia, arredada do cânone aristotélico e portadora, desde logo, de conhecimentos práticos das linguagens teatrais da sua actualidade (VASQUES, 2001, p. 31). Após uma breve etapa de transição, entre 1961 e 1973 – durante a qual o fazer teatral, seja na escrita, seja na cena, se elabora a partir de dois olhares distintos, acolhendo experiências de autoras mais politizadas e afinadas com as linguagens teatrais do seu tempo –, anuncia-se a profunda mutação que viria a se operar na cena teatral portuguesa entre os anos de 1987 e 1992, com a eclosão de uma consciência estética fundada na redefinição dos limites do que se concebe como escrita de teatro. Dentre as mais de vinte escritoras que fazem sua estreia como autoras de teatro neste curto espaço de tempo, começam a ganhar projeção, entre outros nomes, como Hélia Correia e Luisa Costa Gomes, os de Maria Estela Guedes, com O Lagarto do Âmbar, e Eduarda Dionísio, que em seu Antes que a noite venha, de 1992, revisita as figuras trágicas de Julieta, Antígona, Inês de Castro e Medéia, reinventadas na voz monologal de mulheres ex/cêntricas, inclusive pelo lugar social periférico que ocupam. Convergindo para um projeto estético que, entre outros procedimentos, assume o estatuto de autoria textual e, de outro lado, assimila e atualiza a noção de adaptação – então retomada como gênero escritural no início da década de 1960, a partir da inserção do conceito de teatro épico –, Eduarda Dionísio e, mais recentemente, Fiama Hasse Pais Brandão e Maria Estela Guedes ganham projeção neste contexto da dramaturgia no feminino, como também no cenário nacional, na medida em que propõem rediscutir a figura legendária de Inês de Castro, agregando-lhe novos sentidos suscitados pela contemporaneidade de uma cultura que vem, ao longo de séculos, remodelando-se numa imagem mítica de muitas faces, projetada pelo drama passional vivido, veridicamente, por Pedro e Inês. Contada e recontada, lida e relida, encenada e reencenada vezes sem fim, esta narrativa fundadora e emblemática do ser português é revisitada pela produção dramatúrgica destas autoras, de uma perspectiva estética que enseja leituras crítico-interpretativas focadas teoricamente nos Estudos de Gênero, em sua vertente que investiga novas concepções de feminilidades e masculinidades e, de outro lado, nos Estudos de Dramaturgia e Teatro, desde o eixo que problematiza as formas híbridas do texto teatral contemporâneo. |
||||||
|
|
||||||
| Um novo texto dramático em Portugal | ||||||
|
|
||||||
|
Confinado por longo período histórico a uma minguada faixa do território estético-cultural de Portugal, o texto dramático vem, nas últimas décadas, como já referido, alargando seus limites e inserindo-se na dinâmica teatral do país desenvolvida nos anos imediatamente posteriores à Revolução dos Cravos. Inversamente ao movimento realizado no período entre o Segundo Pós-Guerra e o Abril de 74, a cena nacional, num impulso de ruptura com a dependência dos modelos dramatúrgicos importados, volta-se para a montagem de textos clássicos portugueses – de Gil Vicente a Almeida Garret, passando por António Ferreira e sua Castro – e para a criação e a consolidação de uma dramaturgia produzida por portugueses sobre portugueses, com o apoio, embora precário e nem sempre bem sucedido, das políticas de incentivo (SERÔDIO, 1997). Mesmo aproximada de autores exponenciais da dramaturgia do século XX, como Arthur Miller, García Lorca e Bertolt Brecht, a produção de um autor como Bernardo Santareno indicia, dialeticamente, o esforço de construção de novas experiências, com olhos voltados para modelos exógenos e para a releitura dos assuntos nacionais, marcando a necessidade de auto-identificação da sociedade portuguesa – num esforço de reconhecer sua cultura, sua dor, seus sonhos –, traduzida, pela dicção santareniana, na articulação irremediável do trágico com o social, em que aflora um protagonismo feminino, enunciador das tensões e mudanças nas relações sociais, sobretudo as de gênero, daquele contexto histórico.[1] Reveladora da busca identitária então desencadeada mais amplamente no país, esta renovação da cena teatral portuguesa será marcada, principalmente a partir de fins da década de 1980, por novas temáticas e novas perspectivas de interpretação e encenação teatral, assimiladas nos novos espaços de formação, abertos, por exemplo, pela Escola Superior de Teatro e Cinema, em Lisboa, e pelo CENDREV, antigo Centro Cultural de Évora. Em meio a este processo, adotando-se o procedimento em vigor já há algum tempo no contexto europeu, questiona-se a figura do encenador, levando-o a atuar numa espécie de co-autoria com as figuras do dramaturgo e do ator. A par do novo estatuto de cada elemento desta tríade criativa, o texto e também o processo de sua escrita recuperam o lugar de relevância no contexto da criação teatral (PORTO, 1997). Helder Costa será um dos iniciadores da nova tendência, com a encenação de É menino ou menina?, composição cênica sobre textos de Gil Vicente, criada em 1980 para A Barraca, grupo independente, de bastante projeção neste cenário, ao lado de O Bando, Comuna, Teatro da Cornucópia e Teatro Experimental de Cascais, entre outros. Antes disso, em 1967, Luzia Maria Martins, uma das fundadoras do Teatro-Estúdio de Lisboa, escreve e encena Bocage, alma sem mundo, texto de feições épicas, numa linha precursora em relação às novas concepções da escrita para teatro. Aberto, pois, o espaço para os processos de elaboração dramatúrgica fundados na improvisação e na pesquisa cênica, tanto quanto na adaptação ou recomposição de textos vários para o palco – incluindo poemas e narrativas –, inúmeras experiências são desenvolvidas nesta direção, dando surgimento a um conjunto de novos valores no universo da dramaturgia portuguesa. Artistas ligados à cena, uns mais diretamente, outros menos, circunscrevem importante espaço de exercício criativo, marcado pela eclosão de intenso diálogo entre o fazer dramatúrgico e o cênico. Nesta dinâmica autoral entre o palco e o papel, com ênfase no trabalho de adaptação, assimilado e atualizado a partir da inserção, desde a década de 1960, do conceito de teatro épico, são atuações de destaque a de Luzia Maria Martins, com Cesário, quê? (1986), recriação do universo poético de Cesário Verde, e a de Luiz Miguel Cintra, ator e encenador do Cornucópia, cuja produção inclui A margem da alegria (1996), criado sobre poemas de Ruy Belo. Compõem, ainda, esta nova vertente dramatúrgica, duas atrizes: a também encenadora Isabel Medina, uma das fundadoras do grupo de teatro Escola de Mulheres, que escreveu e encenou As mulheres no Parlamento (1999), adaptado de Aristófanes; e Maria Emília Correia, co-autora com Gastão Cruz de O avião de Tróia, adaptação cênica dos jogos surrealistas da poesia de Luiza Neto Jorge. De singular inventividade nesta linha, o trabalho de dramaturgismo do encenador João Brites tem resultado em experiências inovadoras de releitura cênica da produção de poetas e ficcionistas nacionais, realizadas com O Bando: Montedemo (1987), sobre narrativa homônima de Hélia Correia, co-autora na dramaturgia; Bichos (1990), sobre contos de Miguel Torga e Liberdade (1994), a partir de textos de Sophia de Mello Breyner Andresen. Dentro desta proposta de escrita para teatro mediada pelos processos de adaptação, um espaço particularmente significativo será ocupado, desde fins da década de 1970, por uma constelação de autoras, vindas, em grande parte, de outras práticas literárias. Marcando um percurso estético em relação aos novos limites conceituais do texto de teatro, esta incursão da autoria feminina no universo da dramaturgia portuguesa ganha visibilidade com uma produção assinada por escritoras de renome na poesia e no romance, entre elas Luiza Neto Jorge, Yvette K. Centeno, Agustina Bessa-Luís e Maria Velho da Costa, sem esquecer que a dramaturgia destas autoras também inclui textos produzidos ao largo das propostas de adaptação. A este conjunto, somam-se muitas outras autoras, entre elas várias atrizes, como Maria do Céu Guerra, que assina O menino de sua mãe (1989), uma adaptação de textos de Fernando Pessoa, e Teresa Faria, autora de Eurípedes para duas mulheres (1996), trabalho de dramaturgia a partir de vários textos do tragediógrafo grego que tematizam o universo feminino (VASQUES, 2001).[2] Em posição singular nesta constelação, figuram autoras que, além de aderirem aos novos processos de escrita ligados à adaptação, convergem em torno de um projeto estético que assume, entre outros procedimentos, o estatuto de autoria textual. Uma delas, conhecida, desde a década de 1980, como romancista, é Luísa Costa Gomes. Autora de uma composição dramatúrgica de textos de António Vieira (Clamor, 1994), seu percurso pelo campo do teatro, empreendido com olhos atentos aos lugares do feminino na contemporaneidade portuguesa, multiplica-se em experiências que vão da escrita de textos para o público infanto-juvenil (Vanessa vai à luta, 1998) a libretos para ópera (O corvo branco, 1998), passando por uma escrita especialmente desprendida da dramática tradicional (Nunca nada de ninguém, 1991; José Matias, entretém para quatro mulheres, 2002) e incluindo a autoria cênica (E agora, outra coisa: comédia para um actor; Libentíssimo: recital satírico de música e poesia, 1999).[3] Comunga deste esforço de abrir trilhas para o novo, seja em propostas formais e temáticas, seja em perspectivas estético-ideológicas, a citada Maria Estela Guedes, nomeadamente em A Boba (AB, 2006),[4] monólogo que marca o espaço de reinvenção da narrativa mítico-histórica sobre Inês de Castro aberto contemporaneamente no campo da dramaturgia com acento na discussão das novas relações de gênero em emergência no contexto sociocultural português. Compartilhado, sobretudo, por autoras interessadas em investigar as novas feminilidades e masculinidades surgidas em Portugal nas últimas décadas, conforme já referimos,[5] este espaço ganha singularidade com a proposta feita por Maria Estela Guedes de “pôr o mito a nu” (GUEDES, 2007, p. 10.), como talvez nunca antes se tenha ousado. Em sua direção empreendemos a leitura a seguir. |
||||||
|
|
||||||
| Uma mesma e outra história “até ao fim do mundo” | ||||||
|
|
||||||
|
Pelos quatro cantos da Europa e também um pouco por todo o mundo ocidental, uma das histórias mais repetidas, desde fins da Idade Média, é a de Dona Inês de Castro, coroada Rainha de Portugal depois de morta. Do vivido para o imaginado, a trama passional entre Pedro e Inês sobrevive desde então e habita o terreno movediço da palavra, seja em prosa, seja em verso, sob a forma de crônica, poema, conto, registro histórico, romance, tragédia, carta, cantiga, etc. De Fernão Lopes e Garcia de Resende até uma significativa produção contemporânea que inclui o texto escrito para o palco, transmutar o episódio factual em matéria verbal, seja ela ou não de caráter estético, tem sido uma atração irresistível para autores e autoras desde meados do século XV. Tecido por entre segredos e desvãos de um contexto de clandestinidades e disputas de poder, o episódio inesiano, a um só tempo esfíngico e aberto ou, melhor dizendo, cheio de vazios, é matéria-prima perfeita para escritos híbridos de realidade e imaginação. Ou seja, faz-se palavra que, ao optar por ser História, deixa-se seduzir pela subjetividade e, de outro lado, ao se fazer Poesia, permite-se envolver nas teias da objetividade. Manuel de Faria e Sousa e Agustina Bessa-Luís estão entre os nomes emblemáticos desse ir-e-vir autoral pelos territórios do poético e do histórico, como já bem destacou Maria Leonor Machado de Sousa (2005). Faria e Sousa, um dos grandes divulgadores d’Os Lusíadas – e talvez o mais notável historiador português seiscentista –, incorpora em seu relato a coroação póstuma de Inês, validando-a como cena final possível do episódio. Pela voz do historiador, a cerimônia – com o beija-mão e trasladação do “cadáver coroado” –, é sancionada como ato mais que simbólico, sendo desde então divulgada como tal no restante da Europa, antecipando o que a tragédia espanhola se encarregaria de fazer amplamente, inspirada por Jeronimo Bermudez, autor de Nise Laureada (1577, em que o episódio macabro aparece pela primeira vez, configurando-se, como espetáculo, “demasiado sanguinária e desagradável”, segundo avalia Maria Leonor Machado de Souza (2005, p. 111). Reconhecidamente o elemento mais original da lenda inesiana, de maior impacto dramático e que mais repercute no imaginário popular e singulariza a trama de Pedro e Inês, a coroação da Rainha Morta está em todas as tragédias espanholas do século XVII que provavelmente foram conhecidas em Portugal. Contudo, registros de sua adoção pela dramaturgia portuguesa só aparecem no século seguinte, em adaptações do texto de Luiz Vélez de Guevara, Reynar después de morir (1644), das quais se destaca Tragedia de Dona Ignez de Castro (1772), de Nicolau Luís, escrita, ao que consta, em 1760. De outro lado, Bessa-Luís, com suas Adivinhas de Pedro e Inês, tenta unir as pontas soltas da história, destrançando, com mãos de poeta e de biógrafa, os fios da trama medieval de amor e morte envolvendo um infante do reino português e uma dama espanhola, aia dileta de sua esposa. A romancista encontra nas Ordenações Afonsinas uma das chaves da charada em que se transformou o amor de Pedro e Inês. Charada sui generis que, por não ter uma verdade única, admite o jogo de velar e revelar inúmeras meias-verdades, enunciadas por uma esfinge múltipla, cujos duplos se dividem entre os de carne e osso, que com ela partilham a cena da realidade historicamente vivida, e os de matéria simbólica – transmutados ou não da realidade factual –, com os quais coabita uma realidade culturalmente necessária.[6] Igualmente emblemático da palavra híbrida de História e Poesia com que se tem recontado o enredo inesiano é o nome de Maria Estela Guedes e, não por acaso, Agustina Bessa-Luís aparece como sua interlocutora privilegiada, ou antes, como uma das vozes com quem Maria Miguéis, personagem-título de AB, estabelece diálogo. A proverbial assertiva da narradora das Adivinhas de Pedro e Inês, de que “a História é uma ficção controlada”, ganha citação textual no segundo momento do monólogo (Segunda Insônia), em seguida à rubrica que refere o lugar ocupado pela protagonista praticamente durante toda a ação – a tecla CTRL de um computador gigante:
Não sendo propriamente adaptação, reescrita ou atualização dramatúrgica, AB estrutura-se, contudo, como texto compósito, de várias vozes autorais – de vários momentos históricos –, tornadas uma só com o objetivo declarado de desestabilizar o universo mítico-histórico habitado por Inês de Castro pela inclusão de uma personagem até então desqualificada como sujeito histórico. Fazendo do seu monólogo um discurso compartilhado com autores e autoras que recriaram o caso inesiano, Maria Miguéis declara, alto e bom som, ser a responsável por toda a trama por trás dos acontecimentos que culminaram no final trágico da Castro. E quem é essa personagem, que, a despeito de um papel de tal monta, atravessa seis séculos e meio de história – seja a factual, seja a ficcional – e chega ao século XXI completamente incógnita? Quem é Maria Miguéis? Ou, para levantar uma dobra desta pergunta: quem tem medo de Maria Miguéis? De início, Miguéis é pelo menos duas. É uma anã, boba da corte de Afonso IV, a quem sua dona, a rainha D. Beatriz, deixou, em testamento, trezentas libras – conforme registra o Conde de Sabugosa nas Provas (Tomo I) da História Genealógica, citadas em epígrafe por Estela Guedes. A condição de objeto de entretenimento, sobretudo pelas anomalias de que é portadora – “o animal doméstico […] o brinquedo de damas e infantes […], a peça de mobiliário […] que se deixa em testamento aos filhos […] a que se exibe aos convidados para os espantar e fazer rir” –, como também a situação de excentricidade perante a norma e o lugar social que ocupa, abrem-lhe a possibilidade simbólica para se reinventar gigante, avesso de si mesma. Nesta ou naquela condição, mantém-se a conformação anormal do seu ser (“os anões e os gigantes / é que são todos diferantes” [AB, p. 218], como cantarola a certa altura), contudo essa figura diferante e dada a bufonarias é alguém e alguém com poder de mando, como reitera em vários momentos de seu discurso: “[…] mal vós sabeis / que por causa minha / recebeu morte / D. Inês de Castro. […] É que por detrás da morte dela estou eu… […] EU SOU A CAUSA DA TRAGÉDIA, FUI EU QUEM TRAMOU TUDO! […] ESTOU POR DETRÁS DE TUDO! […]” (AB, p. 213, 217, 227). E alguém que não dissimula as razões de quem escolhe estar sobre o botão do controle: Controla-se para quê? Para mandar, está visto. Para legitimar filhos, para dar direito de partilha a este ou àquele. Para disfarçar mazelas, para avisar os parceiros. Controla-se para fazer currículo. Controla-se para ganhar, controla-se para perder o inimigo. Controla-se para revelar e para esconder. (AB, p. 216-217; sem grifos no original) Identificada à natureza compósita da sua fala, a Maria Miguéis que se dá a conhecer à medida que avança seu discurso é personagem múltipla, híbrida de eu e de outro, de tudo e de nada, de realidade historicamente vivida e verdade culturalmente necessária, ultrapassando uma suposta dualidade que marca o início de sua aparição no palco. Saída da lixeira de um computador gigante conectado à Internet, uma mulher anã irrompe a cena descendo os degraus que formam o teclado da máquina e leva uma queda; salta-lhe da boca uma faísca de grosserias dando o tom do testemunho a que viera: “Porra! Porrinha! Porrice! Isto começa mesmo bem!”. (AB, p. 209) Em seguida, assumindo uma pose solene incompatível com o linguajar usado, a anã endireita-se e vai sentar-se na tecla CTRL, dali trazendo à cena, com sua voz, o poeta das Trovas à morte de D. Inês. Com elas propõe um inusitado who’s who entre a Colo de Garça e ela, Maria Miguéis, cujo desdobramento ocupará a primeira das três “insônias” que compõem sua fala. Ambas “pequeninas” – uma pela faixa etária entre infância e juventude (“Eu era moça, menina”, como a viu Garcia de Resende), a outra pela anomalia física (“quase preciso de escada / para me sentar no penico” [AB, p. 211]), como se descreve a Miguéis) –, a anã terá sido, conforme auto-avalia, tão digna quanto a Castro, de seu “mal ser o revés” e já a essa altura começamos a nos inteirar das razões da boba para tramar-lhe a morte. Prosseguindo nesta espécie de especulação comparativa, Maria Miguéis sai pisando em terreno escorregadio e evoca o período em que Pedro e Inês conviveram maritalmente, após a morte de Constança, comentando, ambiguamente, o gosto especial com que Inês se dedicava às atividades da vindima e, de outro lado, a sua própria participação nessa atividade, realizada com as vantagens de quem podia dispensar o movimento corporal simbolicamente aviltante de agachar-se:
Para ir directa à uva fina. (AB, p. 211-212) A alusão à face dionisíaca da Linda-Inês cumpre bem o intento da boba de nos fazer perder o sono – e assim, postos em desassossego, passamos a duvidar da imagem sacralizada da Castro, imortalizada como virgem imaculada, inclusive literalmente na estátua jacente esculpida por ordens do amante saudoso. Nesse movimento sutil, a anã propõe desentronizar a Rainha Morta, despindo-a das vestes apolíneas de cordeira sacrificada, embora também indiciadoras da sua condição de manceba, “a mais amada de Portugal”, como referida por Maria João Martins (1994, p. 11). O estrondo de queda, ouvido na parte final da Terceira Insônia, em seguida à confidência da boba de que muito tem aprendido em sua estadia na Internet, onde tem lido o que nunca esperara ler sobre seus antigos amos, D. Pedro e D. Inês, sugere o desmoronamento do reino-do-amor-até-ao-fim-do-mundo instituído pelo célebre casal de amantes, dando conta, afinal, de que sua proposta de destronar a Castro se realizara. Contraditória, porém, Maria Miguéis, depois de prestar atenção ao som estrepitoso, nega com um gesto que tenha sido ela a culpada. Cronista alternativa, hospedada temporariamente no cyberspace, ocupando a lata do lixo informático, a boba da corte afonsina se dá ao acesso para revelar publicamente suas implicações no caso Inês de Castro – para reconstituir, portanto, uma história de que participou como testemunha ocular e auditiva, o que lhe autoriza, portanto, narrá-la. Recusando a condição de objeto a que esteve submetida em seu tempo e o apagamento sistemático que sobre ela se fez até nossos dias, Maria Miguéis exige o reconhecimento de que pessoas anormais também têm direito à História:
Chegada à era contemporânea e suas impermanências, a boba-cronista incorpora camaleonicamente, no discurso que a institui, as fronteiras movediças de um mundo que se desfaz e refaz o tempo todo em ritmo acelerado e, num ir-e-vir entre o global e o local, entre o universal e o particular, acaba tornando-se uma única e imensa zona de fronteira, por onde transitam e negociam diferentes identidades. Ensaiando respostas ao desassossego de portuguesas e portugueses postos neste local de trânsito em busca identitária, Miguéis assimila a proposta de reciclagem tão cara à contemporaneidade e age orientada para uma nova ordem, advinda da mistura – pautada, portanto, no princípio do diálogo entre diferentes e em sintonia com as proposições da crítica feminista alicerçada na importância de pensar através da diferença (BRAIDOTTI, 1997 apud MACEDO; AMARAL, 2005). Neste sentido, as estratégias de Maria Estela Guedes, seja em termos formais, seja na dimensão simbólica, são conduzidas de modo a permitir o livre trânsito de diferentes num só espaço. A começar do monólogo em si: monólogo dramático, que, portanto, sendo fala narrativa, aos moldes europeus medievais, pretende-se ação dramática e que, pretendendo ser fala monologada, é um mosaico de falas/vozes, de que participam António Candido Franco, Herberto Helder, Bocage, Fernão Lopes, Camões, António Ferreira, Fiama Hasse Pais Brandão, Gondin da Fonseca, Alfred Poizat, além da própria Estela Guedes e dos já referidos Garcia de Resende, Conde de Sabugosa e Agustina Bessa-Luís. AB é, portanto, um monólogo-diálogo, bem ao gosto medieval, cultivado entre outros, por Gil Vicente, a exemplo do que temos no Pranto de Maria Parda,[7] cujo eco, aliás, se vê em falas da Miguéis, como já notou Eugénia Vasques (2006). Além disso, a interlocução da anã se estabelece, em vários momentos e alternadamente, com as personagens centrais da história que ela reconta e com o público leitor/espectador. Na Primeira Insônia, como se lê nas duas estrofes citadas acima (AB, p. 211-212), a anã dirige-se ao público na primeira, a Inês na segunda, e novamente ao público no restante das demais estrofes, ora designando-o de forma coletiva (“E a vós, ó multidão, / dou-vos por onde, por onde?” [AB, p. 212]), ora distinguindo seus diferentes grupos: senhoras, meninos, meninas, gentis cavalheiros e senhoras. O procedimento se repete nas duas Insônias seguintes. Na Segunda, a boba fala ao público e a Afonso, passando de um interlocutor a outro sem fazer qualquer distinção, falando ao coletivo e ao indivíduo como se fosse a um só, a exemplo do trecho subsequente:
Na última Insônia, a mira da anã volta-se para Pedro, não interrompendo, porém, a interlocução com o público, em que agora designa “senhores, donzelas e cavalheiros, gentis macacos e meninos” (AB, p. 227). Tais vocativos, enunciados imediatamente após um relato sobre monstros e monstruosidades das cortes do seu tempo e posteriores, que citamos abaixo, reiteram a intenção de esfumar fronteiras entre o individual e o coletivo, como também entre “diferantes” medievais e contemporâneos:
Sujeito nômade, Maria Miguéis transita livremente também por entre o verso e a prosa – fazendo ecoar novamente a estética do seu tempo – e, ainda, de outro lado, por entre o trágico e o cômico. Com sua irreverência e sua fobia de territórios muito demarcados, AB desafia o mito do Amor Eterno, ridicularizando-o, obrigando a tragédia inesiana a olhar-se e rir da sua própria aberração. Em sua errância discursiva, a cronista, sem retirar de cena os heróis típicos desta forma dramática, subtrai-lhes toda a pompa e nobreza pela exposição ao público de sua contraface monstruosa. Atos de violência e selvageria, atos de covardia, ciúmes e pavores, desvios de personalidade e de comportamento, disfunções físicas, segredos de uma intimidade individual e familiar atormentada na corte afonsina, envolvendo, sobretudo, as relações conflituosas entre pai e filho – tudo a cronista traz à baila, operando, em particular, no sentido de despir suas figuras do modelo de masculinidade patriarcal que, mesmo já esgarçado pelo caráter plural e de construção das formas contemporâneas de viver o masculino e o feminino, ainda encontra sociedades, como a portuguesa – e, aliás, também a brasileira –, que o mantêm como padrão. Não se dispensa a citação, mesmo longa, de um fragmento exemplar desta ronda nômade da boba, em meio à qual vão sendo também esbatidas as fronteiras entre o sublime da fábula mítica e o grotesco da sua narração, eivada de expressões chulas e alusões escatológicas:
Consciente da transitoriedade da sua versão, construída como alternativa da ‘tragédia oficial’ fundadora da identidade portuguesa, Miguéis encerra seu relato tal qual o iniciou, ou seja, sem pretender proclamar uma verdade final e universal: “Se concederdes em descer do pedestal / para ouvir uma anormal, / conto-vos a história minha…” (AB, p. 210). À cena final do último quadro de AB, lado a lado com o então El-rei, a anã avisa-o de sua fome e a este seu comando, mais uma vez, a história se faz, ecoando os versos do poeta:
“E assim foi feito” – declara a Miguéis antes de subir os degraus do teclado e desaparecer na lixeira do computador. Narradora diferante, AB compartilha sua voz de mulher ex/cêntrica com eus de diferentes espaços-tempos, pactuando, portanto, com a parcialidade, o impuro e o imperfeito, numa aproximação com o ciborgue que somos já algum tempo, conforme nos faz ver Donna Haraway: Nos finais do século XX, o nosso tempo, um tempo mítico, todas nós somos quimeras, híbridas teorizadas e fabricadas como máquina e organismo; em resumo, somos ciborgues.[…] O ciborgue é uma imagem condensada de imaginação e realidade material, estruturando estes dois centros assim reunidos toda a possibilidade de transformação histórica. […] O ciborgue está resolutamente comprometido com a parcialidade, a ironia, a intimidade e a perversidade. É um ser antagónico, utópico e completamente desprovido de inocência. Não sendo já estruturado pela polaridade do público e do privado, o ciborgue define uma pólis tecnológica parcialmente baseada na revolução das relações sociais no oikos, o espaço doméstico. […] Sem nenhuma das esperanças do monstro de Frankenstein, o ciborgue não espera que seu pai venha salvá-lo mediante uma restauração do Paraíso; isto é, mediante a fabricação de um companheiro heterossexual, mediante o seu preenchimento num todo acabado, uma cidade e o cosmos. O ciborgue não seria capaz de reconhecer o Jardim do Paraíso; ele não é feito de pó e está-lhe vedado o sonho de ao pó tornar. Os ciborgues não são reverentes; eles não se recordam do cosmos (HARAWAY, 2003). Numa perspectiva comparada, o estudo da dramaturgia portuguesa contemporânea escrita por mulheres, voltado, em particular para a discussão das instâncias de negociação identitária do feminino e do masculino no contexto sociocultural lusófono, encontra espaço fértil de diálogo no Nordeste brasileiro, cuja exploração, em continuidade a esta pesquisa, iniciamos recentemente, tomando a produção de Lourdes Ramalho e Aninha Franco, autoras de reconhecida representatividade no contexto teatral da região. As duas assinam, respectivamente, os monólogos Guiomar filha da mãe (2003) e Três mulheres e Aparecida (2000), em que uma moradora de rua e ex-professora – Guiomar – e uma mendiga – Aparecida –, recontam a história oficial do país enquanto perambulam na rua, por entre entulhos e as sobras do que elas próprias foram um dia, desnudando pelo humor irreverente e corrosivo, semelhante ao da anã inesiana, as estruturas socioculturais minadas pelo paradigma patriarcal. Articular o diálogo entre estas vozes lusófonas híbridas de identidade e diferença poderá favorecer o entendimento de que, do lado de lá ou de cá do Atlântico, as personagens do enredo inesiano – em particular a própria Inês, mas também Pedro e Afonso, além, é claro, da anã Miguéis – somos todos nós, seres humanos em construção, vivendo as tensões entre feminino e masculino, num tempo em que, para além dos múltiplos modelos de ser-mulher e ser-homem, os gêneros vêm se moldando no sentido de ser, cada vez menos, um o avesso do outro. Somos todas/os, brasileiras/os ou portuguesas/es, mulheres e homens com habilidade para reutilizar velharias na reinvenção da vida e da experiência amorosa. |
||||||
|
|
||||||
| Notas | ||||||
|
[1] Guiomar Torresão, que teve textos teatrais seus vistos ou lidos pelo público brasileiro, é um nome a lembrar neste sentido, como também Gertrudes da Cunha e Maria Velluti, que diferentemente daquela, emigraram para o Brasil e aí continuaram a escrever suas peças e publicá-las; cf. SOUTO-MAIOR, 1996. [1] Sobre esta perspectiva da obra de Santareno, ver BELLINE, 1996. [2] Lembrar que a escrita teatral de Maria Velho da Costa, Yvette Centeno e Agustina Bessa-Luís inclui textos produzidos ao largo da proposta de adaptação, como por exemplo, respectivamente, A terça casa, A Árvore da Vida e A bela portuguesa. [3] Sobre os procedimentos da escrita dramatúrgica desta autora, ver BRILHANTE, 2007. [4] O texto está publicado também em GUEDES, 2007, p. 203-237. As citações feitas adiante referem-se a esta edição. Há ainda uma versão eletrônica do texto. Disponível em: <www.triplov.com/estela_guedes/Boba/index.html>. [5] Fiama Hasse Pais Brandão e Eduarda Dionísio, autoras, respectivamente, de Noites de Inês-Constança (2005) e Falas da Castro (in: Antes que a noite venha, 1992). Partilhando este interesse, Armando Nascimento Rosa escreveu O eunuco de Inês de Castro: Teatro no País dos Mortos. Évora: Casa do Sul, 2006. [6] Sobre a ideia acerca das relações entre a realidade historicamente vivida e a culturalmente necessária do episódio inesiano, cf. HOSAKABE, 1998.
[7] Para uma
discussão sobre a estrutura deste texto vicentino, ver MENDES,
1988. e-book 2005. Disponível em: |
||||||
|
|
||||||
| Referências | ||||||
|
BELLINE, Ana Helena Cizotto. Do trágico ao social: a condição da mulher no teatro de Bernardo Santareno. In: Seminário Nacional Mulher e Literatura, 6, 1995. Rio de Janeiro. Anais… Rio de Janeiro: NIELM /UFRJ, 1996. p. 420-429. BRILHANTE, Maria João. Teatro e Literatura: entre prefiguração e rasto. In: BUENO, Aparecida de F. e al. (Orgs.). Literatura portuguesa: história, memória e perspectivas. São Paulo: Alameda, 2007. p. 277-292. GUEDES, Maria Estela. A Boba (Monólogo em três insónias e um despertador). Prefácio de Eugénia Vasques. Lisboa: Apenas Livros, 2006. GUEDES, Maria Estela. Tríptico a solo. Organização e Prólogo de Floriano Martins. São Paulo: Escrituras, 2007. p. 203-237. HARAWAY, Donna. O manifesto ciborgue: a ciência, a tecnologia e o feminismo socialista nos finais do século XX. In: MACEDO, Ana Gabriela (org.). Género, identidade e desejo: antologia crítica do feminismo contemporâneo. Lisboa: Cotovia, 2003. p. 221-250. HOSAKABE, Haquira. A pátria de Inês de Castro. In: IANNONE, Carlos Alberto et al. (org.). Sobre as naus da iniciação: estudos portugueses de literatura e história. São Paulo: Fundação Editora da UNESP, 1998. p. 105-117. MACEDO, Ana Gabriela; AMARAL, Ana Luísa (orgs.). Dicionário da Crítica Feminista. Porto: Afrontamento, 2005. MARTINS, Maria João. Mulheres portuguesas: divas, santas e demônios. Lisboa: Vega, 1994. MENDES, Margarida Vieira. Maria Parda. In: MATEUS, Osório (org.). Vicente. Lisboa: Quimera, 1988; e-book 2005. Disponível em: <http://www.quimera-editores.com/catalogo/vicente/pdf/Maria_Parda.pdf>. PORTO, Carlos. O teatro em Portugal nos Anos 90. Discursos (Teatralidade e discurso dramático), Lisboa, n. 14, abr. 1997, p. 14-15. SERÔDIO, Maria Helena. A mais recente dramaturgia portuguesa: contextos e realizações. Discursos (Teatralidade e discurso dramático), Lisboa, n. 14, abr. 1997. SOUTO-MAIOR, Valéria Andrade. Índice de dramaturgas brasileiras do século XIX. Florianópolis: Mulheres, 1996. SOUZA, Maria Leonor Machado de. Inês de Castro: um tema português na Europa. 2ª ed. revista e actualizada. Lisboa: ACD, 2005. VASQUES, Eugénia. Auto-retrato da boba ou a noite e o medo. In: GUEDES, Maria Estela. A Boba (Monólogo em três insónias e um despertador). Prefácio de Eugénia Vasques. Lisboa: Apenas, 2006. VASQUES, Eugénia. Mulheres que escreveram teatro no século XX em Portugal. Lisboa: Colibri, 2001. |
||||||
|
|
||||||
|
Valéria Andrade (Brasil): |
||||||
|
|
||||||
|
© Maria Estela Guedes |
||||||
|
|
||||||