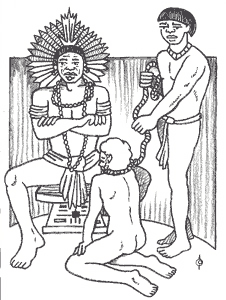3º episódio - Implorando a Jesus Cristo
Terminada a dança, Alkindar-miri escorraça as mulheres, que querem continuar torturando-me, e força-me a ajoelhar de novo sobre o montículo de terra. “Salve-me, meu Jesus Cristo!”, flagro-me dizendo, enquanto procuro em torno pelo “ibirapema”, o bastão de madeira com que executam os prisioneiros. Resignado a tudo aceitar, aguardo por um bom tempo a pancada sobre o meu crânio, sem nada ver ou escutar, como se já não estivesse em meu corpo. Desperto com a voz de Potira me dizendo: “Esiquiié umem” (não tenhas medo). De pé ao meu lado, forte e atarracado como um tronco de itaubeira, Alkindar-miri, depois de repetir, com grande contentamento, que eu sou sua “rembiara” (presa), anuncia, em tupi: “Aqui trago o escravo, o português!”. Uma voz manda Alkindar-miri introduzir-me na cabana. Potira e as outras mulheres não podem entrar. Sentados em roda, embriagados de cauim, os homens olham-me irados quando apareço na porta. “Erê iobê?” (vieste? vieste como inimigo nosso?), pergunta um dos homens. “Pa-aiotu” (sim, vim, porém não como vosso inimigo), respondo em tupi, fato que parece o impressionar, pois, para o selvagem, aquele que fala a sua língua não lhe é estranho. “Se é assim, então bebe conosco”, diz o homem, estendendo-me uma cuia com cauim. Traz grande pedra redonda, verde, incrustada no lábio inferior, e um colar branco de conchas de mariscos pendurado ao pescoço. “Só pode ser Guaratinga-açu”, penso. “Só um chefe como ele, o mais nobre entre os chefes, pode usar tais ornatos”. “És tu Guaratinga-açu? Ainda vives?”, pergunto-lhe, em sua língua, do modo como eles gostam de ouvir. “Pa” (sim, ainda vivo), responde. “Muito ouvi sobre ti; és um homem de grande fama”, digo. Pois Guaratinga-açu é o terror dos portugueses; falam dele como um grande tirano que come carne humana com prazer. Lisonjeado, Guaratinga-açu levanta-se e passa por mim empavonado, o nobre colar de conchas quase arrastando no chão. Em seguida, volta a sentar-se e quer saber o que os portugueses dizem mesmo dele. Com muito jeito, respondo que falam das terríveis guerras que conduz contra os brancos. Então Guaratinga-açu diz que já participou em sua vida de mais combates do que luas lhe despiram a fronte; já escalpelou mais crânios de inimigos do que os dias do ano; já bebeu, na guerra, mais sangue do que todas as tribos nas festas de Tupã. Diz, por fim, que é uma “jaguarete” (onça), nunca temeu que o inimigo pisasse a terra de seus pais, mas alegra-se quando ele vem, e sente com o faro da guerra a juventude renascer no corpo, como a árvore seca renasce com o sopro do inverno; vai capturar os portugueses na floresta um a um, como me haviam capturado. Estes são covardes como morcegos, pois temem a luz do dia e só bebem o sangue da vítima que dorme. Os índios são diferentes: levam a guerra no punho de seus tacapes; o terror que inspiram voa com o rouco som do boré; a pocema da guerra troa e retroa mais forte que a pororoca. Os índios têm “acangatar” (cocar), têm “nhanduab” (penacho), têm “oré mbaequab” (conhecimento de coisas), sentam-se conforme seu modo de sentar (“aguapic xe guapicabamo”), comem segundo seu modo de comer (“acaru xe carusabamo”). Sim, são “sarauaiamo oroicó” (selvagens), não têm “abá i aobeim” (roupa), mas são limpos, banham-se no rio muitas vezes por dia, enquanto os brancos andam “iumunéu uatá” (vestidos) mas são uns “sarigüé-nema” (sarigüês-fedorentos). “Conheço acaraí-quab (homem branco)”, prossegue Guaratinga-açu. “Cariua puxi reté” (homem branco é ruim). E conta que, ao chegar o primeiro navio português na baía de guajará, eles, os tupinambás, subiram confiantes a bordo, para comerciar, mas os portugueses os assaltaram, amarraram e escravizaram, por isso são inimigos. E arremata, provocando o riso dos seus companheiros: “Iandé perouicá, iandé poru, iandé carueté” (nós matamos gente, nós comemos gente, somos muito comilões). Cessando os risos, torna a falar, olhando para mim: “Xe rembiara” (tu és minha presa). “Jaguarete ixé” (sou uma onça). “Ereiquabipe oré nde iucasaguama?” (sabes que nós te mataremos?). “Nde roo xe mocaem serã areiama riré” (farei um moquém da tua carne qualquer dia). Um grito lamentoso de mulher interrompe Guaratinga-açu: “Xe rubangatarum! Nde catu, aiquab nde i iucá-ram-eima!” (ó meu pai bondoso! tu és bom, sei que não o matarás!). É Potira que, fora da cabana, tudo escutara. Sem dar importância aos apelos da cunhantã, o tuxaua diz: “Já que devassaste as nossas matas, morrerás morte vil da mão de um forte; diz-nos quem és, canta teus feitos, ou, se assim te apraz, defende-te”. Tomado de desânimo, choro. O que posso dizer? Que sou filho das selvas? Que descendo da pujante tribo tupi? Ou que sou bravo, sou forte, sou filho do Norte? Ou que já vi cruas brigas de tribos inimigas? Ou que já provei as duras fadigas da guerra? Se assim fosse, poderia dizer: “Não vil, não ignavo, mas forte, mas bravo, serei vosso escravo: aqui virei ter. Guerreiros, não coro do pranto que choro; se a vida deploro, também sei morrer”. E talvez Guaratinga-açu dissesse: “És um guerreiro ilustre, um grande chefe, mas és fraco, porque choraste; um guerreiro não chora. Soltai-o! Pois mentiste; um tupi não chora nunca. E tu choraste! Parte! Não queremos com carne vil enfraquecer os fortes! Só de heróis fazemos pasto! És livre, parte!”. Se eu fosse mesmo um tupi, diria: – Acaso supões que me acovardo, que receio morrer? Ora não partirei; quero provar-te que um filho dos tupis só pode viver com honra! Mas, perdoe-me o amigo, não sendo eu tupi, nem guerreiro nem bravo, mas um simples português amedrontado, não vou perder a chance de me escafeder. Acabo dizendo a verdade: meu nome é Alexandre, naturalista português, já andei por longas terras, estive em naus errantes, já ouvi o tinir de ferros e o estalar de açoites sobre legiões de homens negros como a noite; já vi negras mulheres suspendendo às tetas magras crianças cujas bocas pretas rega o sangue das mães. Sou eu, sim, um branco, mas não sou inimigo dos índios. Mas nada disso adianta. “Tu és só um apanhador de coisas” (nde mbaepisic), diz Guaratinga-açu, com um sorriso desdenhoso. “Xe remimbaba endé” (és meu animal doméstico), completa. E manda Alkindar-miri reconduzir-me à cabana, onde devo aguardar o dia do meu sacrifício. “Nd’aipotari seguama iandé taba suí!” (não quero que ele escape de nossa aldeia), reforça. Antes, porém, de Pequeno Alguidar levar-me, um jovem guerreiro – que depois soube ser Nhaêpepô-oaçu, Grande Caldeirão, filho do chefe Guaratinga-açu – amarra-me as pernas em três lugares, obrigando-me, assim, com os pés ligados, a saltar pela choça. “Aí vem pulando o nosso manjar!”, riem e exclamam todos os homens, menos um jovem tapuio, que, desafiando Grande Caldeirão, tenta livrar-me das cordas, estabelecendo os dois guerreiros um começo de entrevero, prontamente interrompido pela voz imperiosa de Guaratinga-açu, que manda desatarem-me as cordas das pernas. Meu martírio, todavia, não cessa. Imitando Nhaêpepô-oaçu, os outros homens aproximam-se de mim e apalpam-me a carne, dizendo um que o couro da cabeça lhe pertence, outro, que a coxa lhe cabe. Só Guaratinga-açu e o jovem que enfrentou Nhaêpepô-oaçu não participam da brincadeira. A perna ferida dói-me tanto que, mesmo envergonhado, não seguro os gemidos. “Muambaguera ndoiaseoi!” (o prisioneiro não chora!). “Nda abá ruã oiaseobae!” (não é homem aquele que chora!), recrimina-me o tuxaua. Nhaêpepô-oaçu manda que eu cante alguma coisa. Dou por mim entoando o seguinte canto religioso, que não suspeitava trazer na memória, descobrindo que, embora me julgue ateu, sou mais cristão do que imagino: “Agora pedimos ao Espírito Santo Querem saber o significado. Explico, em tupi, que havia louvado ao meu Deus, ao que respondem que o meu Deus é uma “teõuira”, isto é, uma merda, insulto que, como ateu, em nada me afeta. Depois disso, tendo todos se divertido à minha custa, Alkindar-miri pôde reconduzir-me à cabana que me fora destinada. É noite completa e a fogueira do pátio da aldeia havia se apagado. Alkindar-miri, à minha frente, vai puxando-me pela mussurana que me prende o pescoço. Imerso na escuridão, deixo-me levar ouvindo o ranger dos passos na areia fina da praia. Apenas os curumins nos seguem, já que as mulheres, felizmente, foram para suas cabanas. Alkindar-miri amarra-me ao esteio da cabana e retorna ao pátio da aldeia, deixando-me mergulhado na mais completa escuridão. Instantes depois, volta com um tição semi-apagado e alguns gravetos. Agachando-se, assopra o tição várias vezes até que uma pequena chama, inflamando os gravetos, propaga-se à madeira que já estava no chão da cabana, iniciando-se, assim, pequena fogueira. Em seguida, já de pé, à minha frente, me diz Alkindar-miri: “Morubixaba temirecó oguerur ndebe” (o chefe uma esposa escolheu para ti). “Nde remirecoramo secoune” (como tua esposa estará). E, sem mais palavras, dá-me as costas e sai.
|