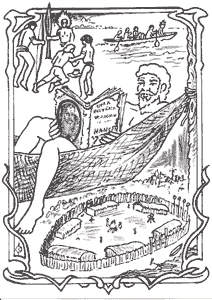1º episódio - Um ateu entre selvagens Não fosse a sombria expectativa da minha morte próxima, eu, Alexandre Rodrigo Ferreira, naturalista português, no verdor de meus vinte e cinco anos, poder-me-ia julgar um homem feliz, porquanto, já em 1751, quando o caso se deu, não havia cristão no velho mundo que não tivesse ouvido falar do modo hospitaleiro como os tupinambás no Brasil tratavam os seus prisioneiros, dando-lhes do bom e do melhor, e de um tudo, para depois devorá-los a “cauim pepica”, isto é, assados e regados com bebida. Nem na casa paterna, onde dormi anos no mesmo quarto com onze irmãos, nem depois, naturalista formado na Academia de Lisboa, em minhas andanças pelo mundo, sentira-me melhor instalado.
A época e o lugar exato dos fatos não têm importância, pois todos os naufrágios ocorrem mais ou menos da mesma maneira; e, mesmo os fatos, como verá o amigo, não devem ser levados muito a sério, porquanto, como escreveu um escritor dos mais inventivos e, em conseqüência, dos mais mentirosos: “O segredo da Verdade é o seguinte: não existem fatos, só existem histórias”. Pois bem, o náufrago do livro, chamado Hans – o que em nada o distingue, pois há milhares de Hans na Alemanha – embarcara numa caravela espanhola rumo aos mares austrais e acabara jogado na praia, que nem um frango molhado, depois que a embarcação, tragada por terrível tempestade, espatifou-se contra os arrecifes. Acolhido por colonos portugueses que habitavam a costa, com estes permaneceu um ano à espera de embarcação que o reconduzisse à Europa, tempo suficiente para tornar-se a um só tempo benquisto pelos portugueses e odiado pelos seus ferozes inimigos, os tupinambás, os quais só por milagre não o comeram. Tudo porque, olvidando a natureza humana má e traiçoeira, Hans confiara num selvagem da tribo dos carijó, também inimiga dos portugueses, o qual – não se sabe com que cabedais, posto que o alemão salvara-se do naufrágio apenas com a pele do corpo – pertencia-lhe. Certo dia, indo à caça com tal escravo, viu-se, por artimanha deste, cercado por um grupo de tupinambás, que, de ambos os lados do caminho, em grande alarido, passaram a visá-lo com arcos e flechas e assetearam-no. Então Hans, borrando-se de medo, exclamou: “Deus salve minha alma!”. Contudo, mal pronunciara tais palavras, abateram-no ao solo, atirando-se sobre ele e ferindo-o a chuçadas. Porém, “Deus seja louvado!”, regozijou-se Hans, porquanto os selvagens machucaram-lhe apenas uma das pernas, embora lhe tenham arrancado as roupas e se apoderado um da camisa, outro das botas, um terceiro do mantéu, um quarto do sombreiro, da mesmíssima maneira como, dias atrás, fizeram comigo – porque, ao que parece, branco que se preza deve apresentar-se aos selvagens muito bem vestido, de mantéu, sombreiro e tudo; afinal, não é todo dia que alguém cai em poder de selvagens, mais raro ainda que saia com vida. Depois de me tomarem as roupas, os índios põem-se a brigar, dizendo um que fora o primeiro a alcançar-me, enquanto outro reivindica a glória de ter-me aprisionado. Entrementes, batem-me com o arco, machucando-me o rosto, até que, por fim, dois deles erguem-me do chão, onde jazo inteiramente nu; um agarra-me um braço; um segundo, o outro; alguns à minha frente, outros atrás, e assim correm depressa carregando-me através da mata até o rio, onde estão as suas canoas. Tudo porque, assim como Hans confiara no índio carijó, também eu, em minhas andanças pelos arredores de Belém, onde viera pesquisar a flora e a fauna, entregara-me à proteção do safado de um índio chamado Paiguara, pertencente ao senhor que me hospedava, deixando-me levar por ele direitinho ao encontro dos tupinambás, os quais, porém, pouco avezados à palavra dada, em vez de deixarem Paiguara viver livre entre eles, como paga do serviço prestado, fizeram dele também um prisioneiro e finalmente o comeram. Chegando à praia, Hans viu as canoas estacionadas sob um arvoredo e, ao lado delas, um grande número de selvagens, que correram ao seu encontro, não que estivessem com saudades, mas, mordendo seus próprios braços, representavam ao prisioneiro a maneira atroz como iriam comê-lo. Um chefe, empunhando o tacape que empregavam para abater os prisioneiros, discursou, gesticulando, que havia aprisionado e feito escravo a um “peró”, como chamavam aos portugueses, e que agora queria vingar em Hans a morte de seus amigos. Junto das canoas, alguns lhe deram socos, depois se apressaram em empurrar a embarcação n’água, receando talvez que os portugueses lhes viessem ao encalço. Antes porém de lançarem n’água as canoas, amarraram-lhe as mãos juntas, e em torno dele disputavam, pois os índios eram de várias aldeias e alguns, não querendo voltar de mãos abanando para casa, já queriam matá-lo ali mesmo, para ter dele uma parte. Prostrado no fundo da canoa, que agora deslizava sobre as águas, Hans, com as mãos atadas, vendo rostos ferozes sobre ele e sentindo-se a mais miserável das criaturas, pensou coisas jamais pensadas. E então, com os olhos úmidos de pranto e o cu bem apertado, cantou o salmo: “Do abismo da miséria clamo eu a Ti”. Ao que disseram os selvagens: “Olha só como ele grita; tá desesperado, o cagão”. Eis que, nesse mesmo instante, armou-se no céu uma grande nuvem negra e borrascosa, e uma lufada fria de vento eriçou a pele até então lisa do mar, amedrontando os índios, que falaram ao prisioneiro: “E mongetá ndé tupã t’okuabé amanasu jandé momaran eima resé”, isto é, “Fala a teu Deus que a grande tempestade não nos faça nenhum mal”. Hans, sem precisar espalmar as mãos já nessa posição amarradas, orou: “Ó Tu, Deus todo-poderoso, Senhor do céu e das terras, Tu, que desde o começo ouviste os homens e os ajudaste, quando o Teu nome imploraram. Prova-me, entre os ímpios, a Tua misericórdia. Faz-me saber que Tu ainda estás comigo. Mostra aos pagãos selvagens, que nada sabem de Ti, que Tu, meu Deus, ouviste minha prece”. Disse isto, mas bem poderia, sem risco de perder-se, ter dito outras palavras, como: “Ó Deus, que abominas a maldade, lança a alma destes selvagens nas profundas do inferno”, porque os índios não só não entendiam patavina de alemão ou qualquer outra língua européia, como também nada sabiam sobre o inferno, muito menos sobre o pecado. Em seguida, como por milagre, os índios olharam para o céu e exclamaram: “Okuá amõ amanasu” (a grande tempestade está se desviando). Então Hans, erguendo-se um pouco no fundo da canoa, agradeceu a Deus pela graça alcançada, mas não pôde compartilhar da alegria dos selvagens, que lhe disseram que logo chegariam a casa, pois bem sabia o que lá o esperava. Mas a noite colhe-nos ainda em viagem, obrigando os índios a procurarem a terra para se abrigar. Então amarram-me muito bem numa árvore e, alojando-se à minha volta, roncam até de manhã. Somente à tardinha, depois de muito remarem, avistam as suas habitações – pequena aldeia de seis choças, erguida numa praia encravada entre o rio e a mata, para onde se dirigem. Ao acostarem as canoas, sou forçado a gritar, em tupi, diante da chusma de moços e velhos que sai das cabanas para ver-me: “Aju ne xé peê remiurama” (estou chegando eu, vossa comida). Em seguida, os homens retiram-se com os arcos e as flechas para as suas moradias, deixando-me entregue aos cuidados das mulheres, que me rodeiam dançando e cantando uma canção que entoam aos prisioneiros que tencionam devorar. Assim espremido, deixo-me levar pelas mulheres até o interior da caiçara de estacas longas e grossas que rodeia as malocas e serve de anteparo contra o inimigo, onde, todas e de uma só vez, arrojam-se sobre mim, aplicando-me socos e arrepelando-me a barba, enquanto dizem: “Xé anama poepika aé!” (com esta pancada vingo-me pelo homem que os teus amigos nos mataram). Depois, sou introduzido numa das cabanas e forçado a deitar-me numa rede, caindo as mulheres de novo sobre mim, escarapelando-me os cabelos e representando o modo como vão comer-me. Em meio a fortes dores, sinto vontade de rir, pois a cena – um homem nu apanhando de mulheres também nuas – não deixa de ser engraçada, para não dizer ridícula. Na verdade, eu começo a encontrar nisso até certa graça, pois, ainda lá na praia, notei entre as mulheres uma cunhantã de uns quinze anos, mais alta do que a média, com o corpo mais formoso que a natureza possa exibir, movendo seus membros com uma elegância acima da comum. Enquanto as outras mulheres me encaravam ameaçadoramente, o rosto daquela tapuia, cheio de altivez nativa, expressava a mais distinta modéstia. Embora ela imitasse os gestos ferozes das companheiras, dos dois olhinhos amendoados da cunhantã, negros como o ébano, pingavam gotas da mais refinada doçura, de modo que seus tapas e safanões mais pareciam um afago. E, mais de uma vez, no percurso da praia à caiçara, a pequena fera, com o seu corpinho, pareceu proteger-me das pancadas, acabando até, numa das vezes, também bordoada. |